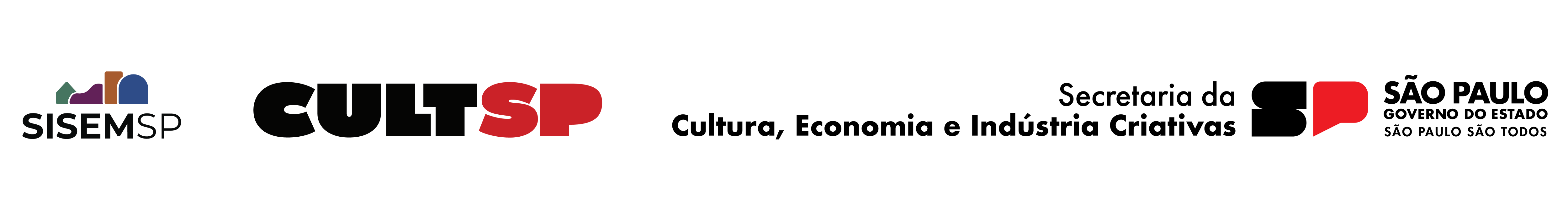Por Luiz Palma [1]
“A vivência é sempre indissociável da corporalidade. O sofrimento é sempre, antes de tudo, um sofrimento do corpo, engajado no mundo e nas relações com os outros.”
Cristophe Dejours[2].

Nos momentos de incerteza, nas circunstâncias graves que empenham de maneira urgente a responsabilidade social, o diálogo pode deixar a intimidade e vir a público, porém, o sentimento de dualidade mantém-se mais evidente. No cotidiano, as normas podem ser aceitas tacitamente, sustentadas socialmente e, no entanto sem que possamos afirmar que sua anuição tenha ocorrido de maneira livre, pois esta aprovação requer a existência de alternativas e seu conhecimento crítico. Ainda que a subjetividade seja parte da consciência, as alternativas dialógicas clarificam suas implicações. A expressão autêntica de valores pressupõe a adesão voluntária por tratar-se de convicção íntima do sujeito, pois se entende que só assim serão internalizadas como padrões éticos e morais. Para as ciências humanas, a dupla condição de sujeito e objeto de conhecimento ao mesmo tempo, foi o que impulsionou o desenvolvimento desse campo do saber. O objeto de conhecimento não é o real em si, tampouco um mero objeto de razão. Ele é o real transformado por algum tipo de atividade e reflexão o que lhe confere um modo humano de existência. Essa condição já era uma questão de especulação do pensamento filosófico e da psicologia, e o signo assim reconhecido faz da pessoa a um só tempo, o cenário interior do drama das relações sociais e da consciência do drama, lugar em que ela desempenha múltiplos papéis, frequentemente conflituosos. Diferentemente do simples sinal, o signo em momento especial de consciência, tem a propriedade de ser reversível, ou seja, ungir tanto quem o recebe quanto quem o emite. O signo tem uma natureza psíquica e é a união do sentido e da imagem acústica, ou seja, do significado e do significante. Pode-se entender como significado o sentido, o conceito ou mesmo a ideia de alguma coisa, a representação mental de algo. Já o significante, como imagem acústica transpõe o simples som material, coisa puramente física, e alcança à impressão psíquica desse som, sua representação nos dá o testemunho de nossos sentidos. Portanto, a palavra dirigida ao outro produz efeito também naquele que a pronuncia. No mundo dos sinais não há reversibilidade, pois eles operam em um campo em que ainda não há consciência. No campo da linguagem, Bakhtin identifica o sinal com a forma linguística e o signo com a sua significação num dado contexto enunciativo. Enquanto o sinal é simplesmente identificado, o signo tem de ser decodificado ou interpretado. O sinal faz parte do mundo dos objetos, constituindo uma entidade de conteúdo invariável. O signo, ao contrário, faz parte do mundo dos sujeitos, constituindo uma entidade móbil e variável em função do contexto enunciativo. A palavra, diz Bakhtin, “está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” [3]. Todo enunciado, tanto do cotidiano como das demais esferas culturais, nunca é a repetição de outro já existente, mas também não é inteiramente novo, se o fosse a comunicação seria impossível. Como integrantes que são da cadeia da comunicação verbal e dos processos sócio-históricos, os enunciados reiteram valores e reafirmam sentimentos nas estruturas linguísticas. Dependendo da esfera e das condições sociais nas quais se objetiva, surgem maiores ou menores possibilidades de impactar no âmbito da singularidade do eu na vida cotidiana, mas também podem alcançar ou emular ações nos coletivos e mesmo na grande dimensão social humana.
Cabe ainda reafirmar que a relatoria foi pensada como um texto crítico, embora não se trate de retomar cada fala ou a própria conversação a partir de um determinado modelo teórico, mas tentar ir além do relato descritivo do acontecimento. Pôr-se mesmo em busca da intensificação da razão e da sensibilidade, que nos parece encoberta pela generalidade de um estado de coisas universal. Por outro lado, a análise crítica não recusa o componente utópico e aberto às contradições e ambigüidades, próprias do que estamos discutindo, ou seja, a sustentabilidade social em museus.
O webinário foi conduzido por Davidson Panis Kaseker, museólogo, diretor do GTC SISEM-SP. Sua fala inicia-se agradecendo a audiência virtual do público e a presença na programação de cada uma das pessoas convidadas para as exposições do dia: Luciara, Sandra e Benjamin. Agradece a Equipe ACAM Portinari pela atuação no apoio a todas as fases do evento, a equipe de relatoria crítica com Luiz Palma, assim como aos integrantes da equipe do SISEM. Em seguida apresenta a trajetória vivencial e acadêmico-profissional dos enunciadores, mencionando também as possibilidades de participação da audiência com perguntas e observações. Faz em seguida uma interrogação preliminar para deslanchar o webinário : – Qual é o papel dos museus na pandemia e como devem enfrentar os desafios socioculturais?
Sob sua coordenação e com suas contribuições teórico-conceituais de sua larga vivência na política cultural, especialmente no campo museal, a atividade realiza-se em ambiente virtual e participativo, pois é o meio possível e seguro para os debates profissionais nesse estágio da pandemia do Covid 19.
Luciara Ribeiro – Educadora, pesquisadora e curadora independente. Trabalha há oito anos com arte-educação em museus e instituições culturais. Interessa-se por questões relacionadas à descolonização da educação e das artes, e pelo estudo das artes não-ocidentais, em especial, as africanas, afro-brasileiras e ameríndias. É mestra em História da Arte pela Universidade de Salamanca (USAL, Espanha, 2018) onde foi bolsista da Fundación Carolina, graduada em História da Arte pela UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo em 2014, com intercâmbio na USAL – Universidade de Salamanca, Espanha em 2012. Atualmente realiza o seu segundo mestrado, no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. Profissionalmente atuou na Bienal de São Paulo, Museu Afro Brasil e Instituto Tomie Ohtake, dentre outras instituições.
Luciara apresenta-se em uma conexão vivencial e de conhecimento identificando sua história como luta marcada pelo encontro nos movimentos sociais de pessoas em situações homólogas às suas, de uma classe social que é continuamente rejeitada – mulher negra no mundo em busca de seus lugares de memória e pertencimento. Conta que fez história da arte e uma história própria de “não lugares” em escolas públicas precárias e em universidades, assim como em estágios e funções nos museus, nos quais não encontrava espaço para suas inquietações. Acentua que estes foram “não-lugares de fala e escuta” e muito mais de “cale-se”, determinado por aqueles quem tem poder e podem calar os demais.
“Agora me parece que as pessoas podem encontrar seu lugar e compreensão de mundo e sociedade. Vive-se um momento de vozes que se projetam. Mas as estruturas museais reproduzem o “cale-se”; os educativos de museus são os lugares mais combatidos e monitorados dentro dos museus. Senti e sinto isso ainda. Como combater essa nocividade, esses controles dos corpos? Quais posturas nós devemos acordar como aceitáveis? Como combater esse nocivo controle e silenciamento dos corpos? Devemos cavar uma abertura para uma mudança efetiva, que vá além da ideia de inclusão. Num espaço onde todos têm voz e espaço não há lugar e nem necessidade de se pensar em inclusão.”
Ao concluir seu enunciado, Luciara enfatiza que os museus precisam ir além da programação para comprometerem-se de forma real e radical com aqueles que lhe dão conteúdo, ou seja, com suas bases – os trabalhadores de museus. É preciso alinhar equipes, desfazer hierarquias para alcançar uma compressão ativa de como enfrentar o racismo, a homofobia e as outras formas de descriminação dentro de suas equipes. Estigmatizar como problemática a voz que não cala e propõe mudanças, com gestos, olhares, posturas e hierarquia, tem sido a prática corrente enquanto o problema é de todos. O caminho passará por lidar com as feridas e as dores silenciadas. Ouvir e não calar os corpos, para que o museu venha a ser inquestionavelmente “lugar” da multiplicidade.
Davidson, ao fazer a passagem entre as falas de Luciara para Benjamin, reconhece as incisivas questões postas e que ficam quase sempre na invisibilidade acrescentando que no mundo todo há uma explosão de pautas nesse momento. E então com veemência diz que há museus que tratam os temas, mas até que ponto enfrentam estruturalmente essas questões.
Benjamin Seroussi – Curador, editor e gestor cultural da Casa do Povo, instituição política e cultural no bairro de Bom Retiro, em São Paulo. Participa desde o início no processo de revitalização desse espaço alternativo de cultura e arte. Foi curador associado da 31ª Bienal de São Paulo (2013-2014). Licenciado e Mestrado em Sociologia na Ecole Normal e Supérieure e Ecole de Hautes Etudes em Sciences Sociales de Paris e Mestrado em Gestão Cultural. Foi Vice-Diretor do Centro da Cultura Judaica de São Paulo, de 2009 a 2012, e adido Cultural do Consulado Francês em São Paulo de 2006 a 2008.
Reforça a fala de Luciara ao “apresentar-se com o corpo”, nascido na França mora no Brasil há 16 anos, experiência que o levou a rever a própria trajetória como filho de imigrantes poloneses judeus, que nunca pôde falar a língua dos pais, assinalando como uma das influências que o levou a estudar Antropologia, Sociologia, Artes Visuais, áreas que identifica como espaços de produção de conhecimento e preservação de memórias. Para Benjamin a arte estará sempre atravessada por questões políticas, que diz serem indissociáveis e que o artista produz conhecimento em torno dessas questões. O termo sustentabilidade lhe causa preocupação e recorre a Ailton Krenak no livro “Ideias para adiar o fim do mundo” que traz o desenvolvimento sustentável como um paradoxo, uma contradição, tendo sido criado pela humanidade como um utilitário. A sugestão é voltar um pouco para refletir sobre a pergunta inicial: O que precisa ser sustentado? Para que estamos fazendo tudo isso? Demonstra sua preocupação com a divisão de sustentabilidade em áreas que podem torná-las estanques, como apresentado para a Sustentabilidade em Museus – econômica, ambiental, social e cultural, pois julga que não se separam, são ligadas intrinsecamente e essa divisão pode, paradoxalmente, reforçar o que se quer combater. Ao questionar a noção de “centro cultural” indaga, por que a Cultura precisa de um centro se ela atravessa todas as instâncias da vida? Cabe, pois questionar a noção de “democratização da cultura” e diz ter como pré-condição democratizar a própria “noção de cultura”, e não a “Cultura”. Chama a atenção para a necessidade de uma mudança de mirada para museus e espaços culturais não mais apenas como espaços físicos construídos, mas como construções contínuas. Tomar a responsabilidade com a produção, com olhar crítico e o reconhecimento das próprias limitações, não como justificativa para uma paralisação, mas como ponto de partida para uma escuta real. Mudança de perspectiva de modelos coloniais em museus, em alusão à acervos que são queimados por não cumprirem as exigências “técnicas” desses modelos. Na pandemia os museus migraram para o virtual e isso é uma medida importante, mas é preciso cuidado: se falamos com pessoas isoladas corre-se o risco de negação da realidade “tem gente que não pode estar em casa para acompanhar, tem gente que não tem casa, não tem conforto. Falamos com mais pessoas, porém, mais das mesmas pessoas.” Outro exemplo derivativo dos mega-museus que tendem a privilegiar a presença de turistas e afastam-se da produção de conhecimentos. Distorções que podem chegar ao extremo em que a cafeteria é pensada antes da definição das linhas de atuação institucional. (Sugere leitura de Paulo Preciado sobre o assunto). Sobre as ações da Casa do Povo, traz entre outros exemplos, o jornal que no passado fora produzido com notícias daquele espaço de vida e resistência e que no curso da ditadura brasileira, foi extinto pelo AI-5, quando o espaço sucumbiu. Essa história calada é retomada como um desafio em 2014: se não existia mais uma “voz” uníssona do povo, que era o que dava motivo ao jornal então, partiu-se para a ativação de um grupo de pessoas do bairro, imigrantes, artistas, artesãos Pinacoteca, Casa Mario de Andrade, para um agenciamento de reconstrução e definição de calendário de ações de grupos e de produção de seus registros para se tornarem novamente material de publicação na retomada do jornal da Casa do Povo. A noção que orienta o trabalho da Casa é a de “Povo em devir”, como construção contínua de um processo vivo que possa se repensar continuamente em como tecer suas relações com o entorno. Há nisso uma noção de Cultura Aberta em que aulas de box, distribuição de comida (cesta aberta que se compõe pela necessidade e escolha do destinatário), coral, costura, bordado, convivências improváveis todos esses fazeres em fricção permanente com o trabalho artístico. E com isso temos a Cultura mesclada à vida. Na Casa temos a noção de “dentro e fora” borrada porque a governança segue uma clara orientação para evitar a concentração de poder interno e hierarquizado, para uma forma de organização mais próxima a uma “sociocracia”, que facilita com que a potência de cada um possa se revelar em plenitude. Na Casa do Povo os coletivos possuem a chave do espaço – a partir de acordos claros de ocupação e uso.
Sandra Benites – Natural da etnia Guarani Nhandeva, da aldeia Porto Lindo no Mato Grosso do Sul, Sandra é antropóloga, arte-educadora e artesã, além de doutoranda em antropologia social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde pesquisa como os guaranis enxergam o corpo feminino. Atualmente integra a equipe de curadores de arte brasileira do MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Entre os anos de 2010 a 2013, em Aracruz, ES, na Associação Indígena Guarani e Tupinikin – AITG, fez parte do grupo de mulheres indígenas representando sua aldeia, a Boa Esperança. Cursou licenciatura Intercultural Indígena na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas do Sul da Mata Atlântica. Atuou como Coordenadora Pedagógica de Educação Indígena, prestando assessoria à Secretaria de Educação do Município de Maricá, RJ. Foi pesquisadora bolsista de 2010 a 2015 pelo OEEI – Observatório da Educação Escolar Indígena, cuja área de atuação foca o processo de ensino-aprendizagem da criança guarani nas escolas diferenciadas e na comunidade Guarani. Desde 2010 atua como pesquisadora na Faculdade de Educação da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais.
Inicia por destacar sua origem e trajetória como indígena guarani nascida no extremo sul do MS, um local violento, excludente, de conflitos permanentes entre indígenas e não-indígenas desde sua infância. Conhece o massacre e a discriminação de perto e só veio a aprender a língua portuguesa aos 27 anos. Sua família, liderada por mulheres, lhe conferiu uma força própria sempre reiterada pela avó de que as mulheres não devem se calar e precisam dizer o que pensam. Não tinha perspectiva ou ganância de chegar aonde chegou, acredita ter sido trazida até aqui pela própria autenticidade nas interações, mesmo quando não compreendia completamente o que se passava não deixava de manter o interesse em observar o outro, o diferente. Por ingenuidade ou sem saber ao certo o que era esperado, reflete, “se soubesse o que é ser um curador, não teria feito tão bem o que me coube nessa função”. Sempre soube que queria falar sobre a cultura indígena e heranças, sobre liderança e força feminina de querer dizer quem se é. Professores não-indígenas é que abriram o caminho para que pudesse se expressar e depois como professora em escola indígena retomar a educação propriamente. Traz elementos que diferenciam a “escola indígena” e “educação indígena”. A Educação é feita com base na cultura do povo, por exemplo, na educação Guarani reafirmamos que tudo tem seu espírito e a aquisição de conhecimentos é um processo que se faz ao longo da vida, a construção do saber se dá na integração com o “todo” pela importância da tradição oral e do aprender fazendo. Um tema de suas primeiras falas em Universidades dizia respeito à experiência de compartilhar suas heranças. A experiência de curadoria coletiva no Rio de Janeiro, co-curadora de uma exposição cujo tema foi “O Rio ainda é indígena” – Expo Jaguataporã, seguiu no caminho da participação para dar sentido e validar o discurso junto à comunidade indígena ampliada para o que chamam “os parentes”. Desafio maior: a escuta, por-se como mediadora entre os curadores e os “parentes”, pensar com os grupos como gostariam de se apresentar e ajudar na materialização desses objetivos. A integração entre “parentes”, curadores e pesquisadores foi um desafio bom, com a ideia de processo e de compreensão de conflito no lugar de confronto, uma vez que o conflito sempre vai haver no encontro até por conta da diversidade, mas o confronto busca combater o outro, enquanto o conflito pode agregar. Tudo foi feito para a exposição como os povos queriam e não como o Museu poderia impor. Todo museu deve negociar constantemente com todos – “tem que ter diálogo e depois a “filtração” – exercitar a sabedora da escuta para promover o encontro”. O equilíbrio do encontro propicia que cada um mostre suas trajetórias, fale de suas demandas e de seus desejos. Na experiência com o Masp, de novo a negociação para que fosse possível entender as limitações de cada uma das partes. Por exemplo, ela desconhecia todo o processo burocrático – “o que está por trás” e o museu não conseguia dialogar com os “parentes”. Alcançou com essa postura de “mediação” muito mais que de curadoria, a permissão dos “parentes” para representá-los reafirmando a importância da visibilidade para os povos indígenas. Uma visibilidade autêntica e viva. Seu grande desafio: conduzir o diálogo entre 305 etnias e com os chamados “parentes perdidos” (aqueles que não mais se reconhecem como indígenas ou parte de qualquer grupo étnico). Pesquisou muito para encontrar o que pudesse unir todos esses parentes, com base no o que é a “luta maior”, “do que falamos juntos”. A certa altura traz um dado que ainda tem valor de ineditismo, inclusive para esse relator, tal a força do apagamento da história. Em 2017, quando foi chamada para atuar em um projeto de exposição no Arco da Lapa, Rio de Janeiro, revela por meio de pesquisas que o Arco foi construído por escravos indígenas. Até então não havia naquele “monumento viário urbano” essa informação que entendo como problema muito maior uma vez que se trata de ocultação deliberada da história. Museus têm que “cutucar feridas”, falar sobre processo de colonização do país, abarcar os diversos pontos de vista para promover esse debate. E falar sobre o futuro, a garantia da vida está no conhecimento, na sustentabilidade. Discutir o “apagamento indígena”, a discriminação, as políticas públicas que considerem a diversidade dos povos e das condições – mulheres, idoso, crianças etc. Nós ainda lutamos pela garantia à sobrevivência e ao território. Conta que recentemente em um encontro para falar sobre território indignou-se por ser chamada para escutar sobre sustentabilidade, como se os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, não possuíssem esse conhecimento. Nós vivemos de acordo com esse saber, do “Espírito da Floresta”, de como roçar, da influência da lua, o parto humanizado. Que os indígenas sempre fizeram e que vem pela ancestralidade do conhecimento milenar. Reforça que para os guaranis, fronteira se define pelas diferenças dos povos e não a partir da demarcação das terras; felicidade e saúde estão relacionadas ao bem estar da Terra: para o Guarani a terra é vista como um corpo feminino, esse conhecimento já existe, é milenar, só precisa ser visibilizado. Existe preconceito e discriminação, falta escuta. “Temos várias questões a contribuir”. O Museu precisa pensar em como vai fazer para equilibrar todos esses corpos, não cabe garantir um e excluir o outro. É preciso respeitar a diferença para saber onde é possível avançar sem excluir.
Após as falas distribuídas nos tempos marcados novas rodadas se dão a partir das questões suscitadas por cada um deles e vocalizadas como “uma voz comum” pela coordenação e participantes que se manifestaram. O caráter instituinte da linguagem aprofundou-se e ampliou-se com observações adicionais. É preciso compreender que aqui se deram atos de coragem pessoal, de exposição de vidas entrelaçadas com as lutas por sobrevivência, pela vida e por transformação social. Não foram relatos heróicos de sobreviventes e muito menos de vitimização ou auto-piedade. As falas/escutas se deram marcadamente como depoimento vivencial ativo, dialógico e crítico perspectivado pelo reconhecimento da multiplicidade cultural histórica e a vontade de superação das ruínas de um progresso sem humanidade.
O que deixa de fazer os museus brasileiros? Será que ainda predomina a omissão perante a sua dimensão social e político-cultural, deixando de estabelecer um firme compromisso com a saga popular anônima e a memória dos excluídos da história oficial? Ou lhe caberia como vaticinado por Sergio Buarque de Holanda aquelas visões do movimento modernista de 1922 de desvendar o passado que não passa, o passado no presente, a desordem na ordem, o arcaico no moderno? O grito pela democratização dos saberes ainda soa nos museus como murmúrio incapaz de despertar o sono centenário do autoritarismo social e suas estruturas de exclusões institucionalizadas. Soma-se ao modelo predominante de organização, os efeitos da ideologia pós-moderna que o acompanha. Ideologia baseada segundo a caracterização de David Harvey[4], na compressão do espaço e do tempo, pela qual se eliminam as distâncias espaciais – tudo se dá aqui; e as diferenças temporais – tudo se dá agora; de modo que a produção da cultura se submeta ao ritmo do veloz, do efêmero, do relativo e do descartável. NÃO!
[1] Psicólogo social e artista visual, técnico da UPPM, com a colaboração de notas para a relatoria de Cláudia Ribeiro e Marina Falsetti Viviani Silveira.
[2] In Conferências Brasileiras. Identidade, reconhecimento e transgressão no trabalho. P.19. Edições Fundap/FGV. São Paulo: 1999.
[3] BAKTHIN, Mikhail. Estética da criação verbal. In: Introdução de BEZERRA, P. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
[4] HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 15. ed. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2006.